Por Rafael Fortes (raffortes@hotmail.com)
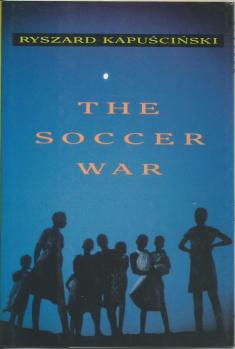 Conheci o trabalho do jornalista polonês Ryszard Kapuscinski uns anos atrás lendo O imperador, livro que me foi indicado por um amigo de faculdade de jornalismo (obrigado, Baiano!). A narrativa trata das vivências do repórter em meio à corte do imperador Selassiê, da Etiópia. O conteúdo parece de ficção, mas não é. Contudo, não acreditei, como não o fiz ao ler a obra objeto deste texto, que tudo que ele narrava era verdade absoluta – na verdade, isto pouco importa, ao menos para mim, quando se trata de fruir a narrativa deste autor.
Conheci o trabalho do jornalista polonês Ryszard Kapuscinski uns anos atrás lendo O imperador, livro que me foi indicado por um amigo de faculdade de jornalismo (obrigado, Baiano!). A narrativa trata das vivências do repórter em meio à corte do imperador Selassiê, da Etiópia. O conteúdo parece de ficção, mas não é. Contudo, não acreditei, como não o fiz ao ler a obra objeto deste texto, que tudo que ele narrava era verdade absoluta – na verdade, isto pouco importa, ao menos para mim, quando se trata de fruir a narrativa deste autor.
Anos depois, esbarrei com The Soccer War (existe tradução publicada no Brasil: A Guerra do Futebol) na estante de livros usados à venda na biblioteca pública do bairro em que morava em San Diego. Custou o inacreditável preço de um dólar e furou a fila: comecei a ler. Não sabia do que se tratava, apenas de três coisas: que era um livro de Kapuscinski; que provavelmente seria bom; e que, com esse título, abordaria o futebol.
The Soccer War é uma coletânea de histórias relativas a viagens do jornalista a trabalho, como correspondente da Agência de Imprensa Polonesa, entre as décadas de 1950 e 1970, na África, na Ásia e na América Latina. São relatos encharcados de suor, tiros, humanidade e desumanidade. Tem guerra entre palestinos e israelenses no Monte Hérmon e atrocidades de parte a parte entre gregos e turcos no Chipre; há uma bela descrição dos povos nômades somalianos e etíopes, entre muitos outros relatos sobre áreas do globo em geral ignoradas pelo mercado mundial de notícias.
A guerra do futebol (capítulo)
O título da obra é retirado de um dos textos, que aborda um confronto armado entre El Salvador e Honduras que “durou cem horas. Suas vítimas: 6.000 mortos, mais de 12.000 feridos. Cinquenta mil pessoas perderam suas casas e terras. Muitas vilas foram destruídas” (p. 182; este e os demais trechos foram traduzidos por mim). Segundo o autor, o confronto teve como estopim as partidas entre as seleções dos países pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 (tema já brevemente comentado neste blogue).
“A primeira partida foi realizada no domingo, 8 de junho de 1969, na capital hondurenha, Tegucigalpa.
Ninguém ao redor do mundo prestou qualquer atenção.
A equipe salvadorenha chegou em Tegucigalpa no sábado e passou a noite sem dormir (…). O time não podia dormir porque foi alvo de guerra psicológica travada pelos torcedores hondurenhos. Uma multidão cercou o hotel. A turba atirava pedras nas janelas e batucava em placas de latão e latas de lixo. Eles soltavam seguidos fogos de artifício. Eles buzinavam nos carros estacionados na frente do hotel. Os torcedores apitavam, gritavam e cantavam músicas hostis. Isso durou toda a noite. A ideia era que um time tenso, sonolento e exausto estaria inclinado à derrota. Na América Latina, estas são práticas comuns” (p. 157).
Adiante, após dar exemplos hilários de denúncias pintadas em muros, prossegue ele:
“Os latinos são obcecados com espiões, conspirações de inteligência e complôs. Na guerra, todo mundo é um quinta-coluna. Eu não estava numa situação confortável: a propaganda oficial de ambos os lados culpava os comunistas por cada desgraça, e eu era o único correspondente na região oriundo de um país socialista. (…)
Fui até o correio e convidei o operador de telex para tomar uma cerveja. Ele estava aterrorizado porque, embora tivesse pai hondurenho, sua mãe era cidadã de El Salvador. Ele tinha nacionalidade mista e, portanto, figurava entre os suspeitos. (…) Durante toda a manhã, a polícia estivera tangendo salvadorenhos para acampamentos provisórios, a maioria deles montados em estádios. Por toda a América Latina, os estádios têm um duplo papel: em tempo de paz, são arenas esportivas; na guerra, viram campos de concentração” (p. 166).
Por fim,
“a guerra terminou num impasse. (…) Ambos os governos estão satisfeitos: por vários dias Honduras e El Salvador ocuparam as primeiras páginas da imprensa mundial e foram objeto de interesse e preocupação. A única chance que pequenos países do Terceiro Mundo têm de despertar vivo interesse internacional é quando decidem derramar sangue. Isto é uma triste verdade, mas é assim.
O jogo decisivo da melhor de três foi realizado em campo neutro, no México (El Salvador venceu, 3×2). Os torcedores hondurenhos foram colocados de um lado do estádio, os salvadorenhos do outro, e no meio sentaram-se 5.000 policiais mexicanos armados com grossos cacetetes” (p. 184).
O esporte e o lazer noutros capítulos
Os espaços de lazer e o esporte aparecem, em menor escala, em alguns outros textos. Logo no seguinte, “Victoriano Gomez na TV”, a chapa continua quente. O tema é a transmissão ao vivo, pela televisão, da execução de um guerrilheiro de 24 anos que lutava contra a concentração latifundiária:
“Victoriano Gomez morreu em 8 de fevereiro na pequena cidade de San Miguel, El Salvador. Ele foi morto a tiros sob o sol da tarde, no estádio de futebol. Havia gente sentada na arquibancada do estádio desde a manhã. Furgões de rádio e televisão chegaram. Os cinegrafistas armaram seus equipamentos. Alguns fotógrafos se posicionaram no campo de jogo verdejante, agrupados em volta de uma das balizas. Parecia que uma partida estava prestes a começar.
(…) as pessoas (…) compravam sorvetes e bebidas geladas. As crianças faziam a maior parte do barulho. Quem não achava lugar na arquibancada, subia numa árvore para ver.
Um caminhão do Exército adentrou o campo. Primeiro, saíram os soldados que estariam no pelotão de fuzilamento. (…) [Victoriano Gomez] olhou para as arquibancadas, e disse bem alto (…): ‘Sou inocente, meus amigos’.
O estádio ficou em silêncio de novo, embora assovios de reprimenda pudessem ser ouvidos desde os lugares de honra onde os dignitários locais estavam sentados.
As câmeras foram ligadas: a transmissão ia começar. Por todo El Salvador, o povo estava assistindo à execução (…) na televisão.
Victoriano estava de pé próximo à pista de atletismo, encarando a arquibancada. Mas os cinegrafistas gritaram para ele ir para o meio do estádio, de forma que eles tivessem mais luz e uma cena melhor. Ele compreendeu e caminhou de volta até o centro do campo (…). Agora apenas uma pequena figura podia ser vista da arquibancada, e isso era bom. A morte perde sua literalidade naquela distância: deixa de ser morte e torna-se o espetáculo da morte. Contudo, os cinegrafistas fizeram um close-up de Victoriano; o rosto dele preenchia a tela; as pessoas assistindo pela televisão viam mais do que o público reunido no estádio.
Após a salva de tiros do pelotão, Victoriano caiu e as câmeras mostraram os soldados cercando seu corpo para contar as perfurações. (…)
Estava tudo terminado. A arquibancada começou a se esvaziar. A transmissão terminou. (…) Sua [de Victoriano] mãe ficou um pouco mais, sem se mexer, cercada por um grupo de pessoas que olhavam para ela em silêncio” (p. 185-6).
Lendo tal narrativa, penso nos pesquisadores e professores da área de Comunicação (existem também em outras áreas das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas) que continuam tratando espetáculo e entretenimento como elementos estranhos ao esporte (ou, pior ainda, à “essência” do esporte) e que apenas recentemente adentraram o campo esportivo. Um pouco de leitura de história do esporte talvez caísse bem…
Em “Lumumba”, sobre o líder congolês, descreve o ambiente do Alex, “meu bar preferido na África”. Um trecho:
“Isto é uma segunda casa. (…) Casa é restrição e o bar é liberdade. Um informante branco não irá a um bar, porque uma pessoa branca iria se sobressair. Portanto, você pode falar de tudo. O bar está sempre repleto de palavras. O bar delibera, argumenta e pontifica. O bar topa qualquer assunto (…). Reputações (…) nascem aqui. (…) Se você encanta o bar, terá uma carreira de sucesso; se o bar escarnece de você, você pode voltar direto para a selva. (…) Alguém gesticula, uma mulher nina um bebê, risadas explodem em outra mesa. Fofoca, febre e muita gente. Aqui eles estão negociando o preço para passarem uma noite juntos, ali eles estão delineando um programa revolucionário, na mesa ao lado alguém está recomendando um bom feiticeiro, e acolá alguém está dizendo que vai ter greve. Um bar como este é tudo que você pode desejar: um clube, uma casa de penhores, um calçadão, uma varanda lateral de igreja, um teatro e uma escola (…).
Você tem que levar em consideração os bares e Lumumba compreendia isto perfeitamente. Ele também aparece para uma cerveja.” (p. 52-3)
Em “Algeria Hides Its Face” (“A Argélia esconde seu rosto”), ao narrar as atividades de Ben Bella na véspera do golpe que sofreu na Argélia: “Na sexta-feira, 18 de junho, poucas horas antes do coup, Ben Bella discursou numa manifestação em Orã. (…) Depois, foi a uma partida de futebol – ele nunca perdia um jogo (…)” (p. 113).
Segundo Kapuscinski, “Ben Bella tinha (…) uma personalidade fascinante. O futebol era sua paixão. Ele adorava assistir e também jogar. Com frequência, entre uma reunião e outra, ele dirigia até um campo de futebol e ficava chutando uma bola. Nesses jogos improvisados, a companhia mais próxima de Ben Bella era outro entusiasmado jogador de futebol, o ministro do exterior e um dos organizadores do complô contra o próprio Ben Bella: Abdel Azis Buteflika” (p. 96).
Fiquei pensando no argumento que vem sendo desenvolvido por pesquisadores de história da África como Victor Andrade de Melo e Marcelo Bittencourt (2012, 2013) de que diversos líderes revolucionários das lutas de independência contra Portugal tinham intenso envolvimento com o esporte, particularmente com o futebol.
O texto também faz uma extensa análise de problemas que cercam os governos de países recém-independentes, as realizações de Bella, o lugar de destaque ao qual a Argélia foi alçada no cenário internacional, particularmente no que diz respeito às lutas de esquerda e anti-imperialistas. A análise política é entremeada com episódios cotidianos e histórias saborosas, algumas delas envolvendo o esporte.
A narrativa e a trajetória do autor
A prosa de Kapuscinski tem características interessantes, misturando o formato de reportagem com o de diário, relato de viajante, obra de ficção. O jornalista era daqueles que gostavam de se jogar no olho do furacão: guerras, revoluções, guerras civis: falou em confusão, em dramas humanos e em lugares e situações de que a maioria dos repórteres quer distância, lá ia ele.
Outro aspecto interessante são suas convicções políticas, assim como o fato de ser polonês e trabalhar para uma agência de notícias de um país do bloco comunista. Por um lado, a narrativa tem momentos de um certo preconceito de europeu viajando ao Terceiro Mundo, além de momentos de incompreensão face ao que vê. Em “A Dispute over a Judge Ends in the Fall of a Government” (algo como “Uma contenda sobre um juiz vai dar na queda de um governo”):
“Há vários meses o Estado parara de funcionar. O gabinete não se reunira; o país estava paralisado.
Aqui podemos ver perfeitamente os mecanismos da política na África: o Daomé é um país pobre e subdesenvolvido. Tirar o Daomé da pobreza exigirá um esforço enorme, união de forças e educação. Mas ninguém sequer está trabalhando” (p. 123).
A isto se somam situações difíceis que se criam devido à aparência física de branco europeu, semelhante às dos opressores/colonizadores. Em “The Offensive” (“A Ofensiva”):
“Pensei em ir lá e explicar: sou da Polônia. Aos dezesseis anos de idade, entrei para uma organização de jovens. Nas faixas daquela organização estavam escritos slogans sobre a fraternidade das raças e o esforço comum contra o colonialismo. Organizei manifestações de solidariedade aos povos da Coreia, do Vietnã e da Argélia, com gente de todo o mundo. (…) Sempre considerei os colonialistas os piores vermes que existem” (p. 63).
Há vários episódios de risco, como tentativas de desenrolo ao levar dura de policiais, militares, guerrilheiros e/ou bandos armados de difícil classificação; há também uma impressionante narração do que se sente ao levar uma picada de escorpião no meio da noite.
Por outro, trata-se de alguém simpático às reivindicações populares e às causas da esquerda; e oriundo de um país periférico no próprio cenário europeu, e que não colonizou territórios nos demais continentes. O assunto vem à tona, por exemplo, num papo com alguns membros do conselho de anciãos de uma vila em Gana, em que a ajuda de Kofi, um amigo e intérprete, foi fundamental para explicar a eles que a Polônia, da qual nunca haviam ouvido falar, não tinha colônias e que “nem todos os brancos são colonialistas”. O papo desemboca numa discussão sobre colonialismo e pós-colonialismo. Prossegue Kofi, a respeito de sua terra natal: “Por cem anos eles nos ensinaram de que o branco é alguém maior, super, extra. Eles tinham seus clubes, suas piscinas, seus bairros, suas putas, seus carros e sua língua balbuciante. Nós sabíamos que a Inglaterra era o único país do mundo, que Deus era inglês, que apenas os ingleses viajavam pelo mundo. Sabíamos justamente o quanto eles desejavam que soubéssemos. Agora é difícil mudar” (p. 231).
Há muitas reflexões sobre a guerra, abordando temas como as perdas humanas; ou as transformações introduzidas por novas máquinas de matar:
“Agora os tempos mudaram, e a face da guerra mudou. Os homens foram retirados do campo de visão no terreno de batalha. Vemos equipamentos. Vemos tanques, artilharia automática, foguetes e aeronaves. Oficiais apertam botões num bunker, observam os saltos de uma linha verde numa tela, manipulam um joystick e apertam outro botão. Um bum, um silvo, e em algum lugar, à distância, um tanque se desintegra, nalgum trecho do céu um avião se despedaça” (p. 203-4).
Livro com bônus
 Como às vezes acontece com livros usados, este veio com três itens:
Como às vezes acontece com livros usados, este veio com três itens:
1) Um cartão postal de uma companhia aérea dos EUA, estampando um modelo 767.
2) Uma resenha recortada (e cortada; ver imagem à esquerda), ao que parece, de uma revista chamada Inside Traveler, repleta de elogios ao que define como “uma coletânea de artigos das viagens de Kapuscinski como correspondente da Agência de Imprensa Polonesa (…), parte relato de viagem, parte reflexão filosófica sombria, parte narrativa de aventura no fio da navalha”.
3) E um recorte de jornal (à direita), evidenciando que a morte do escritor, como diria Jorge Benjor, deu no New York Times. No obituário, fiquei sabendo que ele chegou a escrever para a revista do próprio jornal. Termina mais ou menos assim:
“‘Existe, admito, um certo egoísmo no que escrevo’, disse ele certa vez, ‘sempre reclamando do calor ou da fome ou da dor que sinto. Mas é terrivelmente importante ter o que escrevo autenticado por ter sido vivido. Você pode chamar isso, suponho, de reportagem pessoal, porque o autor está sempre presente. Eu às vezes chamo de literatura a pé.”
Observando os itens, me parece que, antes de vir parar no Rio de Janeiro, o exemplar pertenceu a alguém interessado em literatura de viagens/viajantes.
Referências bibliográficas
KAPUSCINSKI, Ryszard. The Soccer War. New York: Alfred A. Knopf, 1991.
MELO, Victor Andrade de; BITTENCOURT, Marcelo. Sob suspeita: o controle dos clubes esportivos
no contexto colonial português. Revista Tempo, Niterói, v. 17, n. 33, p. 191-215, dez. 2012.
______. O esporte na política colonial portuguesa: o Boletim Geral do Ultramar. Revista Tempo,
Niterói, v. 17, n. 34, p. 69-80, jan.-jun. 2013.
Para quem tiver curiosidade, diversos livros de Kapuscinski estão traduzidos no Brasil.
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.
 Comentários desativados em Kapuscinski e “A Guerra do Futebol” |
Comentários desativados em Kapuscinski e “A Guerra do Futebol” |  África, Futebol, História do Esporte, Literatura, Política | Marcado: El Salvador, Honduras, jornalismo, jornalismo literário, Literatura |
África, Futebol, História do Esporte, Literatura, Política | Marcado: El Salvador, Honduras, jornalismo, jornalismo literário, Literatura |  Link Permanente
Link Permanente Escrito por Rafael Fortes
Escrito por Rafael Fortes